
O tal “Poder Moderador” dos militares: a volta dos que não foram – IV
Chegamos, enfim, ao termo de uma longa sequência de artigos sobre o mesmo tema com uma indagação que insiste em não se calar. Fazendo uma retrospectiva, verificaremos que os pedidos de “intervenção militar”, com base no art. 142 da Constituição Federal, começaram a aparecer, aqui e acolá, em junho de 2013, quando, no curso dos protestos de massas, com as reivindicações as mais diversas, se começou a cogitar a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Por que isso só teria ocorrido praticamente um quarto de século após a promulgação da “Constituição Cidadã”? Alguma “Caixa de Pandora” fora aberta? Quando? Talvez o lacre da fechadura tenha sido rompido no mês anterior: maio de 2013. Chegaremos lá.
Coube a um antigo perseguido pela ditadura militar, o ministro Eros Grau, relatar a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 153, pela qual a OAB buscava que o STF fixasse interpretação conforme à Constituição, segundo a qual a anistia concedida pela Lei nº 6.683, de 1979, aos crimes políticos ou conexos “não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão, contra opositores políticos, durante o regime militar”. Postulava-se, ainda, o acesso a documentos históricos do período do regime autocrático, como forma de exercício do direito fundamental à verdade.

O STF, ao fim e ao cabo, sacramentou, em abril de 2010, a compatibilidade da “conexão criminal” (§ 1º do art. 1º da Lei nº 6.683, de 1979) com a Constituição vigente para o fim de determinação da abrangência da anistia. Fábio Konder Comparato, redator da petição inicial na referida ADPF, observou que a consideração dos agentes da repressão como albergados pela expressão “crimes conexos” seria “totalmente inepta no caso, pois são considerados como tais tão somente os delitos com comunhão de intuitos ou objetivos e ninguém em são juízo pode afirmar que os opositores ao regime militar e os agentes estatais que os torturaram e mataram tivessem agido com objetivos comuns”.
O STF, diferentemente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não tratou a Lei nº 6.683, de 1979, como uma “autoanistia”, mas como uma anômala “anistia bilateral” entre governantes e governados. Assim se pronunciou o jurista acima mencionado após o julgamento: “Segundo essa original interpretação, torturadores e torturados, reunidos em uma espécie de contrato particular de intercâmbio de prestações, teriam resolvido anistiar-se reciprocamente”. E aduziu: “Porventura, as vítimas ainda vivas e os familiares de mortos pela repressão militar foram chamados a negociar esse acordo?”. Vale lembrar que, às vésperas da apreciação da matéria no Congresso Nacional, presos políticos faziam greve de fome em protesto contra o texto proposto. E a votação revelou um Parlamento rachado em torno da proposição, com a Oposição consentida (isto é, o MDB) votando em bloco contrariamente ao projeto de lei. Difícil, nessas circunstâncias, imaginar ter havido um contrato social em torno da “anistia” que, nas palavras de Sepúlveda Pertence, à época, mais parecia um “indulto coletivo”.
Recorde-se, ainda que, depois de concedida a “anistia bilateral”, cujo propósito seria, portanto, o desarmamento geral dos espíritos, o Ministério Público Militar registraria, desde a edição da Lei nº 6.683, de 1979, até 1981, a ocorrência de quarenta atentados a bomba atribuídos a oficiais militares. Somente em fevereiro de 2014 – 33 anos depois − seria oferecida uma denúncia contra perpetradores de condutas tipificadas como crimes, tais como transporte de explosivos, associação criminosa armada e homicídio doloso. Repita-se: 33 anos depois!
Ademais, como apurar a reciprocidade para estabelecimento do liame (conexão) criminal? Reconhecia-se, pela decisão do STF, a condição de anistiados dos agentes do Estado que teriam praticado os “crimes conexos”, ao tempo em que se desconheciam os crimes que teriam propiciado a conexão, eventualmente cometidos por desaparecidos ou mortos, pois não se tinha acesso a documentos que evidenciassem as circunstâncias em que condutas de opositores do regime mereceram resposta dita criminosa de agentes do Estado. Por isso, a própria Suprema Corte, certamente tendo em conta a necessidade de arrefecer o impacto de sua interpretação, dispôs sobre a obrigatoriedade de se facultar aos interessados o acesso à documentação de eventos ocorridos durante a ditadura militar.
É bem verdade que a Emenda Constitucional nº 26, de 1985, incorporou em seu enunciado o § 1º do art. 1º da Lei nº 6.883, de 1979. E isso foi muito destacado no voto do ministro Eros Grau ao negar o pedido da OAB. De nossa parte, já deixamos consignada nossa crítica a essa emenda constitucional no primeiro texto desta série e frisamos a ambiência em que foi confeccionada.
Repetindo o bordão de um famoso comunista, João Saldanha, “vida que segue”.
Ocorre que, em desafio à decisão do mais elevado tribunal do país, as forças militares não facultaram o “acesso a documentos históricos como forma de exercício do direito fundamental à verdade” e como forma de identificação das fontes das indigitadas conexões. Afinal, oficialmente esses documentos não mais existiam. Desde o advento da Nova República. O problema, porém, não reside na recusa das Forças Armadas em fornecê-los. Isso podia ser esperado, dada sua tradição de efetivo poder estamental, imune a accountability e responsiveness, isto é, a qualquer controle face ao poder civil. Mais grave seria e tem sido a apatia do povo (e de seus autodenominados “líderes”), não protestando contra o abuso de poder, ante flagrante omissão em face de acórdão do STF − eficaz contra todos e vinculante relativamente aos órgãos da administração direta federal, diga-se − assim, nessa parte, ementado: “Impõe-se o desembaraço dos mecanismos que ainda dificultam o conhecimento do quanto ocorreu no Brasil durante as décadas sombrias da ditadura” (ADPF nº 153).

Vale recordar, uma vez mais, que, em 2007, o ex-ministro do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves, dissera que os arquivos contendo tais documentos não haviam sido destruídos. E não se pode olvidar que, para as Forças Armadas, nunca houve ditadura. Há pouco o ministro da Defesa, no atual governo, expediu nota na qual assinalou que a destituição do presidente da República, em 1º de abril de 1964, foi “um marco para a democracia brasileira”.
Ainda abordaremos, em outra oportunidade, o caso de uma revolução política, alhures, feita pacificamente, na qual a questão do acesso aos documentos secretos de órgãos estatais durante um regime autoritário, se firmou como fundamento a impulsionar um movimento de massas radicalmente democrático.
Quase dez anos depois do julgamento, a Suprema Corte ainda não respondeu a embargos declaratórios de sua decisão, no âmbito da ADPF nº 153. Sequestros e ocultação de cadáver − que são, tecnicamente, crimes permanentes ou continuados − estariam sob a redoma da Lei de Anistia, em que pese dito diploma legal dispor que a anistia não se aplicaria a crimes posteriores a 15 de agosto de 1979?
Tais condutas são consideradas crimes que não foram ainda consumados: nos dias de hoje ainda há pessoas que foram sequestradas; ainda há cadáveres que foram ocultados. Mesmo antes da consumação, já estariam esses crimes previamente anistiados? O que tem a Justiça a dizer?
Vida que segue. Em outubro de 2010, Lula elege sua sucessora: uma militante outrora apenada, com base na Lei de Segurança Nacional. Havia integrado organização política clandestina durante a ditadura militar. Ou “empresarial-militar”, ou “civil-militar”, na visão de de uns e outros cientistas políticos. Órgãos de informação das Forças Armadas já a haviam rotulado como a “papisa da subversão”. Qual seria o desfecho?

Na área militar, tudo indicava que haveria continuidade de propósitos. Nelson Jobim, que assumira a pasta da Defesa em 2007, durante uma crise no setor aéreo, continuaria à frente do ministério. Mas críticas ao governo Dilma Rousseff, cuja autoria lhe eram atribuídas, foram publicadas. Revelou Jobim, ademais, que votara no candidato José Serra para a Presidência da República. Havia se passado pouco mais de seis meses, desde a posse da “papisa da subversão”, a primeira mulher a chegar à Presidência da República, mas já chegara a hora de aquele ministro da Defesa de pedir o boné.
O ar se comprime
No ano de 2011, a presidente da República sancionava a Lei de Acesso às Informações (Lei nº 12.527), que reduziria a 25 anos o sigilo dos documentos ultrassecretos, prorrogável esse prazo por igual período. Não haveria mais sigilo eterno. Para o fim de preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem, informações pessoais poderiam ser retidas por um prazo de até cem anos. Vale lembrar que o relator da matéria no Senado Federal fora um antigo exilado político que, durante o regime militar, também havia atuado como militante de uma organização política clandestina.
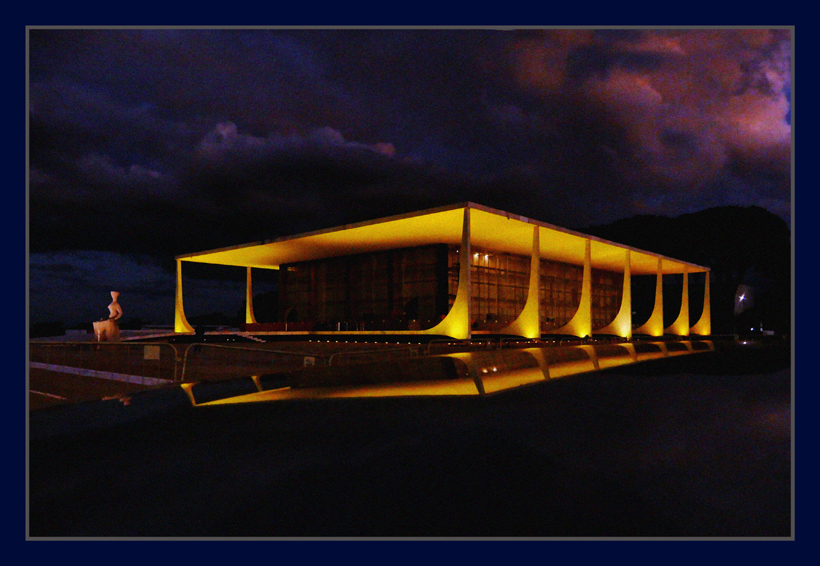
No dia 16 de maio de 2012, a Comissão Nacional da Verdade (CNV), prevista no Decreto nº 7.037, de 2009, foi, finalmente, instalada. Não deixa de ser intrigante que não tenha sido instituída por decreto presidencial. Depois da crise militar por ocasião do lançamento do PNDH-3, Lula havia optado, em maio de 2010, por enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que dispunha sobre sua criação, sem solicitar urgência para sua apreciação. As lideranças partidárias atribuíram-lhe o regime de urgência, mas, em setembro de 2011 a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, ainda peregrinava pelos gabinetes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pedindo que a matéria fosse apreciada. Apenas em 18 de novembro de 2011 a presidente da República sancionaria a lei pela qual a CNV seria criada e cuja instalação, efetivamente, só se daria seis meses depois. No curso de seus trabalhos, a despeito da decisão do STF na ADPF nº 153 e da Lei de Acesso às Informações, a CNV não conseguiu obter documentos que lhe permitissem o pleno “conhecimento do quanto ocorreu no Brasil durante as décadas sombrias da ditadura”, para que brasileiros pudessem, como reza a Constituição, na dicção do STF, exercer “o direito fundamental à verdade”.
Em maio de 2013, um grupo de trabalho vinculado à Comissão Nacional da Verdade divulga documentos ultrassecretos do Centro de Informações da Marinha − Cenimar – que lhe foram repassados, não pelo Comando da Marinha, mas por um jornalista que os recebera de terceiros, resguardado o sigilo da fonte. O referido GT, depois de analisá-los, chegou a desenhar linhas de comando decisório e indicar responsabilizações por condutas evidenciadas por tais documentos. Oficialmente, tais arquivos haviam sido destruídos antes do advento da Nova República. Mas estavam ali, microfilmados. Existiam. Mexeu-se em vespeiro. Nessa altura, já havia quem, por certo, estaria a se debruçar sobre nota expedida pelo general Castello Branco, que, em 20 de março de 1964, na condição de chefe do Estado-Maior do Exército, refletia junto a seus subordinados: devem as Forças Armadas “garantir a plenitude do grupamento pseudosindical, cuja cúpula vive na agitação subversiva cada vez mais onerosa aos cofres públicos?”.
A Caixa de Pandora, ao que parece, fora aberta.
Um mês após a apresentação pública dos documentos e análise da assessoria da Comissão Nacional da Verdade, as primeiras faixas pedindo intervenção militar apareceriam, no bojo das manifestações generalizadas de insatisfação popular. Aqui, em meio ao pedido de fim da tomada de três pinos, uma faixa com a versão, no vernáculo, do “que se vayan todos”! Ali, ao lado da reivindicação do passe estudantil gratuito, outro cartaz: “Abaixo os políticos” ou “Fora a politicalha”! Eram palavras de ordem que, também, começaram a pipocar exponencialmente nas redes sociais.
Os protestos presenciais acabaram refluindo, mas as peças se mexiam no tabuleiro. Em 14 de novembro de 2013, o corpo do ex-presidente João Goulart, exumado para que se averiguasse, por perícia da PF, se fora assassinado, chega a Brasília. Tratava-se de uma investigação, no bojo das atividades da Comissão Nacional da Verdade. Homenagens oficiais foram prestadas; honras militares protocolares, na recepção dos restos mortais, foram observadas, conforme determinara a Presidência da República. Mas haveria reação. No Congresso Nacional, uma sessão é convocada para votar um projeto de resolução que tornaria nula a sessão do dia 1º de abril de 1964, pelo qual fora declarada a vacância da Presidência da República. Dentre quinhentos e treze parlamentares, um único congressista busca, sem sucesso, mas com obstinação, obstruir a votação e estragar a homenagem a João Goulart. Seu nome: Jair Messias Bolsonaro.
O ano seguinte prometia! Haveria eleições presidenciais. Em março de 2014 tem início a Operação Lava-Jato. Daí em diante, o andar da carruagem ainda deve estar fresco na memória de muitos. Os desdobramentos dos fatos dão, sim, razão a Daniel Aarão Reis: as esquerdas subestimaram o debate em torno da corrupção e da segurança pública, “temas que extravasaram a classe média e atingem hoje as camadas populares. Questões de vida e morte… porque afetam a saúde, a educação, a democracia”. O flanco estava descoberto: “corrupção e subversão”, como em 1964, precisavam ser combatidas.

Dilma ainda seria reeleita, em disputa acirrada com Aécio Neves. Passado pouco mais de um mês da data das eleições, a presidente recebe o relatório da CNV. Dele, nada constava a respeito dos documentos ultrassecretos do Cenimar que foram analisados. Em março de 2015, ocorrem as primeiras manifestações populares a favor do impeachment da chefe do Poder Executivo. E os pedidos de intervenção militar tornam-se recorrentes. A derrota de Aécio Neves foi determinante para motivar um deputado federal a candidatar-se à Presidência da República em 2018. Seu nome? Jair Messias Bolsonaro.
Em setembro de 2015, uma fugaz tentativa de centralizar, em detrimento dos comandantes das Forças Armadas, os atos de promoções de oficiais na pessoa do ministro da Defesa − à época um civil − fora rapidamente tornada sem efeito. O terreno começava a ficar cada vez mais movediço. Menos de um ano depois do termo inicial de seu segundo mandato, Dilma Rousseff já estava oficialmente submetida a processo por crime de responsabilidade, perante o Congresso Nacional.

Se havia um grupo que, parafraseando Castello Branco, queria dominar o Brasil “para mandar e desmandar e mesmo para gozar o poder” e, “talvez, submeter a nação ao comunismo”, esse grupo, desde meados de maio de 2016, já não representava mais risco algum. Na sessão da Câmara dos Deputados, realizada no dia 17 de abril de 2016, havia ficado registrado, para os anais, a homenagem de um deputado ao Coronel Brilhante Ustra, em desfavor de quem eram atribuídas torturas inomináveis, praticadas contra a presidente da República que, naquela data e naquele momento, estava sendo afastada de seu cargo. E a vida seguiu seu curso, naturalmente, sem que aquela declaração de voto fosse considerada um ultraje ao rigor parlamentar. Nome do deputado? Jair Messias Bolsonaro.
Havia um cheiro de “vale a pena ver de novo” no ar. E o ar se comprimia.
Daí em diante, não haveria ruído algum se um militar assumisse a pasta da Defesa, como, de fato, assumiu após a queda de Dilma Rousseff. E como “o preço da liberdade é a eterna vigilância”, como gostava de dizer o brigadeiro Eduardo Gomes, repetindo Jefferson, veio à tona a notícia de que pelo menos um oficial do Exército, à guisa de coleta de informações de inteligência para operações de garantia da lei e da ordem, infiltrara-se num agrupamento black block para monitorar protesto que pedia a queda de Michel Temer, em setembro de 2016. Nenhum problema. Tudo estava sob controle.
Doravante, não haveria, outrossim, objeções se o estado do Rio de Janeiro fosse submetido a intervenção federal e a gestão da segurança pública entregue a um militar, tal como o Corpo de Guarda da capital do Império fora conferido a Caxias, no período regencial.

Chegamos a abril de 2018. Quando o comandante do Exército expediu um tuíte assinalando ser contra a impunidade e dizendo estar o Exército atento às suas missões institucionais, − pouco antes do voto decisivo da ministra Rosa Weber, do STF, no julgamento de um habeas corpus que poderia livrar Lula da prisão −, pudemos, enfim, verificar estar vigendo a constituição “ex facto”. À moda de Luís XIV, o presidente da República que seria eleito naquele ano diria, pouco mais tarde: “Eu sou a Constituição”. Seu nome: Jair Messias Bolsonaro, capitão do Exército, reformado.
Ei-la, pois: a “Constituição” da autocracia, que, pela dissuasão, busca manter “coesa” uma sociedade historicamente marcada pela desigualdade social e pelo autoritarismo estrutural. Interposição de agentes públicos para satisfação dos interesses de classes dominantes ou estamento dotado de autonomia de mando? A questão fica em aberto. Certo é que essa “Constituição” contém apenas dois dispositivos: Art. 1º – Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Art. 2º – Revogam-se as disposições em contrário.
* Thales Chagas Machado Coelho é advogado e mestre em Direito Constitucional pela UFMG

