Muito se tem falado, ultimamente, sobre o art. 142 da Constituição Federal. Será que estaríamos vivenciando o que Peter Häberle chamou de “sociedade aberta dos intérpretes a Constituição”? Não creio: palpites por redes sociais não são argumentos jurídicos. Não se poderá entender o art. 142 se não se souber como se chegou à sua aprovação. O constitucionalista português Gomes Canotilho adverte: “Saber história é um saber ineliminável do saber constitucional”. Portanto, recorramos à história.
O historiador Daniel Aarão Reis enumerou, recentemente, três dimensões de análise para entender a ascensão do bolsonarismo: a) as tradições estruturais do autoritarismo no Brasil; b) a longa conjuntura, a partir do processo de redemocratização até 2018, e; c) a conjuntura curta, marcada pela eleição presidencial de 2018. Para o ilustre professor, a eleição de Bolsonaro deveu-se, sobretudo, ao fato de as esquerdas terem subestimado o debate em torno da corrupção e da segurança pública: “São temas que extravasaram a classe média e atingem hoje as camadas populares. Questões de vida e morte… porque afetam a saúde, a educação, a democracia” – assinalou.
Sobre o autoritarismo estrutural, cabe dizer que as feridas da escravidão de negros e do genocídio dos povos originários, sobre os quais se assentou, por séculos, a nossa inserção subordinada no desenvolvimento econômico dos países europeus, ainda estão abertas. Quanto à “conjuntura curta”, muito já se tem debatido sobre o pouco empenho das chamadas esquerdas em lidar com os temas da corrupção e da segurança pública. Vale acrescentar que a fase anterior à Nova República, conduzida pelos antípodas das esquerdas, mereceria também ser revisitada no que diz respeito a esses temas: corrupção, segurança pública e suas bizarras imbricações. A título de ilustração, o País necessitaria entender, em tempos de milícias, como pôde um torturador, oficial do Exército, tornar-se poderoso bicheiro e presidente de escola de samba. Mas esse não é o propósito desta fala.
Retomemos a contribuição de Aarão Reis. A fase definida como “longa conjuntura” pouco tem sido objeto de reflexões. Sobre esse período, luzes deveriam ser lançadas, sobretudo nessa quadra de tanto obscurantismo. Deixemos aqui algumas observações para suscitar o debate sobre aquela época, tão bem definida por Francisco Weffort como “transição pactuada”. Comentarei essa “longa conjuntura” em três fases: a primeira, desde o governo Figueiredo até a aprovação da Emenda Constitucional nº 26, de 1985, pela qual se atribuíram poderes constituintes ao Congresso Nacional eleito em 1986; a segunda, do início dos trabalhos constituintes da 48ª Legislatura ao fim do governo FHC; e, finalmente, o período dos governos petistas à intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, no governo Michel Temer.
O regime autocrático perdera a credibilidade que lhe restava, desde a revogação do Ato Institucional nº 5 (Emenda Constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978) e a aprovação da Lei de Anistia (Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979). Depois disso, três momentos bem significativos, certamente, levariam ao abrandamento da famigerada Lei de Segurança Nacional, no final de 1983.
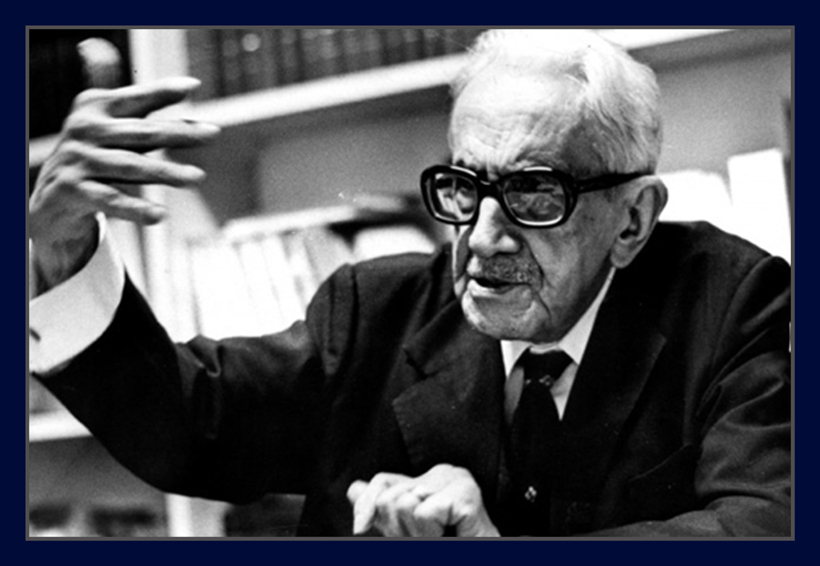
Em primeiro lugar, a explosão de uma carta-bomba na sede da OAB, levando à morte uma funcionária da entidade em agosto de 1980, momento culminante de uma série de outras explosões que visavam atingir forças políticas de esquerda, mas não apenas elas. O escritório do icônico advogado Sobral Pinto, por exemplo, foi alvo de uma bomba-relógio. Indícios ligavam os autores a aparatos de repressão das Forças Armadas. Esses atos criminosos nunca foram devidamente apurados.
Em segundo lugar, a forma como o regime lidou com as investigações sobre o “atentado do Riocentro”, durante uma comemoração musical do 1º de maio de 1981. A ampla rejeição da opinião pública às conclusões do inquérito policial-militar, no qual se atribuíam a organizações clandestinas de esquerda a responsabilidade pela detonação de artefato que implicou, naquela ocasião, a morte de um sargento e ferimentos graves em um capitão, ambos do Exército, desmoralizou por completo, pela evidência do ridículo, a investigação do Comando Militar do Leste.
Em terceiro lugar, a exibição de fanfarronices do General Newton Cruz, na Esplanada dos Ministérios (Brasília), montado em seu cavalo branco, com ginete na mão, conduzindo operações repressivas na estreia das “medidas de emergência”, adotadas pela Emenda Constitucional nº 11, de 1978 (a mesma pela qual se revogou o AI-5). Tratava-se, na época – outubro a dezembro de 1983 −, de impedir que sindicalistas tivessem acesso ao prédio do Congresso Nacional, por ocasião da apreciação, pelo Poder Legislativo, primeiro, do Decreto-Lei nº 2.045 e, depois, do Decreto-Lei nº 2.065, ambos de 1983, pelos quais se impusera forte arrocho salarial. A cena se repetiria no dia 22 de abril de 1984, na sessão do Congresso Nacional, em que se votaria a proposta de eleições diretas para presidente da República.
1983: Um ano crucial na história do Brasil
O Congresso Nacional, apesar das pressões de círculos militares, rejeitou o Decreto-Lei nº 2.045, de 1983, importando histórica derrota para o regime. Nunca um decreto-lei, desde a edição do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966 − quando esse tipo de ato normativo foi reintroduzido no ordenamento jurídico − havia sido reprovado pelo Congresso Nacional. É nesse contexto que se inicia uma revisão da doutrina de segurança nacional. O novo diploma legal sobre a matéria (Lei nª 7.170) seria sancionado em 14 de dezembro de 1983, significando uma mitigação da repressão, em relação aos fundamentos doutrinários embutidos na LSN de 1978 (Lei nº 6.620), editada nos estertores do governo Geisel (após o fim do AI-5). O fato de essa lei – que no início da “Nova República” fazia parte do chamado “entulho autoritário” − estar em vigor ainda hoje, sem qualquer alteração, com base na doutrina jurídica de “recepção das normas anteriores compatíveis com a nova ordem constitucional”, evidencia o quão controlado foi e tem sido o processo de mudanças institucionais no Brasil.

Fixemo-nos nesse ano de 1983. O PMDB passara, em meio a brutal crise econômica e social, a governar importantes estados da federação, após as eleições de 1982, marcadas pela vinculação de votos, controle da propaganda eleitoral e subtração ao escrutínio popular das capitais e municípios em áreas consideradas de interesse da segurança nacional. Emblematicamente, Leonel Brizola estava, agora, à frente do governo do estado do Rio de Janeiro. E mais importante: em março de 1983 havia sido realizado, em Abreu Lima (PE), o primeiro comício pelas “Diretas Já!”; viria, em seguida, no mês de junho, o comício de Goiânia (GO); em novembro, a praça Charles Müller, em frente ao Pacaembu, em São Paulo (SP), era tomada por milhares de pessoas com a mesma reivindicação: “Diretas Já!”.
Os hierarcas castrenses assustavam-se com o crescimento da campanha popular pela aprovação da proposta de emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira, por meio da qual o presidente da República passaria a ser eleito pelo voto direto, universal e secreto. A proposta havia sido apresentada pelo representante mato-grossense no início da 47ª Legislatura. Nos comícios de centenas, depois milhares e depois milhões, bandeiras de agremiações partidárias clandestinas desafiavam o regime. Ainda no arranque da campanha, no palanque de grande festa cívica, montado na Praça da Sé, centro de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1984, um ilustre convidado deixou de comparecer: o governador de Minas Gerais, Tancredo Neves.
Dada a composição do Congresso Nacional de antanho, a proposta não prosperou. Faltaram 22 votos para que se alcançasse a necessária maioria de dois terços dos membros da Câmara dos Deputados para aprová-la. Sequer foi examinada pelo Senado Federal. No dia da votação, a Esplanada dos Ministérios estava interditada por tropas do Comando Militar do Planalto, sob ordens do General Newton Cruz. O Distrito Federal encontrava-se submetido a “medida de emergência”.
Iniciava-se, ali, a transição pactuada, com o status quo firmando suas casamatas: um civil, oposicionista moderado, poderia ser eleito indiretamente para a Presidência da República; doravante, até a reunião do Colégio Eleitoral, as bandeiras vermelhas deveriam sumir dos comícios; a anistia de crimes “conexos”, eventualmente praticados por agentes estatais, desde 1º de abril de 1964, era inquestionável; uma nova ordem jurídico-constitucional seria admitida pela via de um Congresso ordinário, investido de poderes constituintes. Como os Estados Gerais do Ancien Régime, em 1789, a autocracia que nos governava não admitia um poder constituinte exclusivo e soberano, que se autodissolvesse, uma vez concluída a tarefa de elaborar uma Constituição, vedando-se aos constituintes a elegibilidade para um período subsequente.

No dia da votação da emenda Dante de Oliveira, populares reunidos frente a um placar de votação instalado na Praça da Rodoviária, em Belo Horizonte, foram fortemente reprimidos pela PM-MG, “força auxiliar do Exército”, como todas as polícias militares estaduais. Até dirigentes do PMDB mineiro foram detidos.
Pouco tempo depois, após a eleição indireta de Tancredo Neves (PMDB) para a Presidência da República, pelo dito Colégio Eleitoral, a reserva de autoridade do estamento militar evidenciar-se-ia na crise da doença do presidente eleito, na véspera de sua posse. A poucos metros de distância do leito de um moribundo, quem bateria o martelo, ratificando a posse avulsa de José Sarney e sua assunção temporária à suprema magistratura do País, nos termos da “Constituição vigente”, seria o general Leônidas Pires Gonçalves − que ainda nem havia assumido o posto de ministro do Exército − após consultar-se com o Ministro Leitão de Abreu, em seu último dia como chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Vale lembrar que a “Constituição vigente”, citada pelo futuro ministro do Exército da “Nova República” era a Constituição de 1967, que, fora promulgada, nos termos do AI-4, de 7 de dezembro de 1966, por um Congresso Nacional reunido “extraordinariamente, de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, para discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República”. A esse texto somavam-se a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, editada por uma Junta Militar, com base no AI-5, e, no que diz respeito à eleição presidencial, as emendas constitucionais nº 8, de 14 de abril de 1977 (“pacote de abril”, editado pelo Presidente Ernesto Geisel, também com amparo no AI-5) e 22, de 29 de junho de 1982, promulgada pelo Congresso Nacional, que apenas alterou a data de reunião do Colégio Eleitoral.
Tudo deve mudar para que tudo fique como está
A máxima de Giuseppe di Lampedusa parecia conduzir a evolução dos acontecimentos: “tudo deve mudar para que tudo fique como está”. Instaurada a “Nova República”, sob a batuta do ex-presidente do partido de sustentação da própria autocracia, a ideia de uma Assembleia Nacional Constituinte, exclusivamente eleita para elaborar uma Constituição, estaria definitivamente fora de cogitações no âmbito da concertação conservadora.
Dois anos antes, Tancredo Neves, o oposicionista moderado que seria ungido com o consentimento do oficialismo, em seu discurso de despedida do Senado Federal, em 10 de março de 1982, já havia sinalizado sua repulsa a rupturas. Falou em “cessação de hostilidades”, em “caminhar juntos, sem a preocupação de acerto de contas”. Em seu pronunciamento, após louvar as figuras dos marechais Caxias e Osório, asseverou, então, o futuro governador de Minas Gerais: “Não nos resta, ainda, por muito tempo, outra alternativa. Ou promovemos com urgência as grandes transformações que a Nação reclama em altos brados, que só os deliberadamente surdos não querem ouvir, orientando-as, dirigindo-as e incorporando-as, com inteligência política, à nossa existência, ou, então, não nos iludamos, essas transformações se farão à nossa revelia, sem nós e até contra nós, pela força e a violência, levando de roldão, na sua fúria, o muito que deve ser preservado e que constitui o acervo indestrutível de nossa civilização”.
José Sarney, em 18 de julho de 1985, já era presidente da República em caráter definitivo. Nessa data, assinou o Decreto nº 91.450, instituindo a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais (CPEC). A CPEC, que ficaria conhecida como Comissão Afonso Arinos, em referência a seu presidente, mais do que oferecer sugestões ao futuro Congresso Nacional, investido de poderes constituintes, teria por escopo formatar um projeto de Constituição que pudesse ser apresentado pelo presidente da República, tal como ocorrera em 1891, 1934 e 1967. Após um ano de trabalhos, a comissão apresentou seu anteprojeto ao Presidente José Sarney, que houve por bem nada submeter ao Congresso Nacional. Afinal, o anteprojeto advogava a adoção do sistema parlamentarista de governo e a definição do mandato presidencial em quatro anos.
Antes de criar a CPEC, o presidente da República, por meio da Mensagem nº 330, de 28 de junho de 1985, já havia enviado ao Poder Legislativo uma proposta de emenda à “Constituição vigente”, pela qual o Congresso Nacional que viesse a ser instalado em 31 de janeiro de 1987 (eleito em 15 de novembro de 1982, mais um terço do Senado Federal, já eleito em 1982), estaria investido de poderes constituintes (PEC nº 43, de 7 de agosto de 1985).
A Comissão Mista do Congresso Nacional, destinada a oferecer parecer sobre a PEC nº 43, de 1985, escolheu o Deputado Federal Flávio Bierrenbach (PMDB-SP) para relatá-la. O referido congressista concluiu seu relatório apresentando um substitutivo que previa a convocação de uma consulta plebiscitária, na qual o cidadão deveria opinar sobre o seguinte: a) se delegava o poder constituinte originário a uma assembleia exclusiva ou ao Congresso Nacional; b) se os senadores eleitos em 1982 poderiam exercer funções constituintes.
Assessores parlamentares do ministério do Exército tentaram, debalde, demover o relator de seu substitutivo. Após conversações que envolveram o ministro do Exército, o próprio Deputado Federal Ulysses Guimarães (PMDB-SP) entrou em campo para derrotar o substitutivo de seu correligionário. Sepultava-se ali a ideia que Tancredo Neves expressou em seu discurso de despedida do Senado Federal, segundo a qual uma “Nação sem Constituição oriunda do coração do seu povo é Nação mutilada na sua dignidade cívica, violentada na sua cultura e humilhada em face de sua consciência democrática”. Tancredo havia falado em “coração do povo”, mas não falou em Assembleia Nacional Constituinte, livre, soberana, exclusiva, dotada de poder constituinte originário. Não se lembrara das lições de Emmanuel Sieyès, aprendidas nos bancos da vetusta Casa de Afonso Penna.
E os “fiscais do Sarney” foram às urnas

O “coração do povo” estava no combate à remarcação de preços. Na onda de euforia causada pelo “Plano Cruzado”, o povo, investido no cargo de “fiscal do Sarney”, foi às urnas em 15 de novembro de 1986. Mal sabia que estava a conferir poderes constituintes aos seus futuros congressistas. Talvez isso explique, nos dias de hoje, a ausência de uma robusta “força normativa” (Konrad Hesse) de nossa Constituição: ela não veio do “coração do povo”. Por isso, ficou vulnerável a ataques antidemocráticos, ainda que se possa admitir uma legitimação a posteriori de uma Constituição, pelo processo da praxis constitucional (Friedrich Müller), como seu deu na Alemanha. De acordo com a “Lei Básica” (Grundgesetz) de maio de 1949, nos termos de seu preâmbulo e do art. 146, deveria ter sido convocada uma Assembleia Nacional Constituinte depois da reunificação do povo alemão, a partir da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989. Isso nunca ocorreu.
Uma semana depois das eleições de 1986, o estelionato eleitoral: editava-se o “Plano Cruzado II”, a evidenciar que a água começa a entrar no barco do combate à inflação.
Flávio Bierrenbach não seria reeleito para participar dos trabalhos constituintes. No governo FHC haveria de ser nomeado ministro do Superior Tribunal Militar (STM), onde, anos antes, seu tio, o Almirante Júlio Bierrenbach, tratara de desmascarar a farsa do inquérito policial-militar, destinado a apurar o atentado do Riocentro. O almirante Bierrenbach, tal como seu sobrinho, deu murro em ponta de faca: não encontrara respaldo entre seus pares, ao pedir a reabertura do inquérito policial-militar, em face de suas inconsistências.
Em 10 de outubro de 1981, o STM, por 10×4, não acatou seu entendimento e determinou o arquivamento definitivo do caso Riocentro. Em abril de 1988, a reabertura das investigações voltou à baila. O ministro da Justiça, Paulo Brossard, e o Procurador-Geral da República, Sepúlveda Pertence, foram instados a tomar providências. Mas nada de novo aconteceu. “Tudo como dantes no quartel de Abrantes”. No curso de uma “Assembleia Nacional Constituinte”, havia uma ordem velada: não se mexe no passado.
* Thales Chagas Machado Coelho é advogado e mestre em Direito Constitucional pela UFMG
—
O tal “Poder Moderador” dos militares: a volta dos que não foram – II


