
No auge da crise que acabou levando ao impeachment de Dilma Rousseff, ousei inverter em um artigo a famosa frase do marqueteiro de Bill Clinton, James Carville. Nas eleições de 1992, ele apontou que George Bush não era favorito, apesar da popularidade conquistada após ter vencido a Guerra do Golfo. “É a economia, estúpido!”, disse ele. Seu raciocínio era que a definição política de uma eleição dependia fundamentalmente dos humores da população quanto aos aspectos econômicos: recessão, inflação, etc.
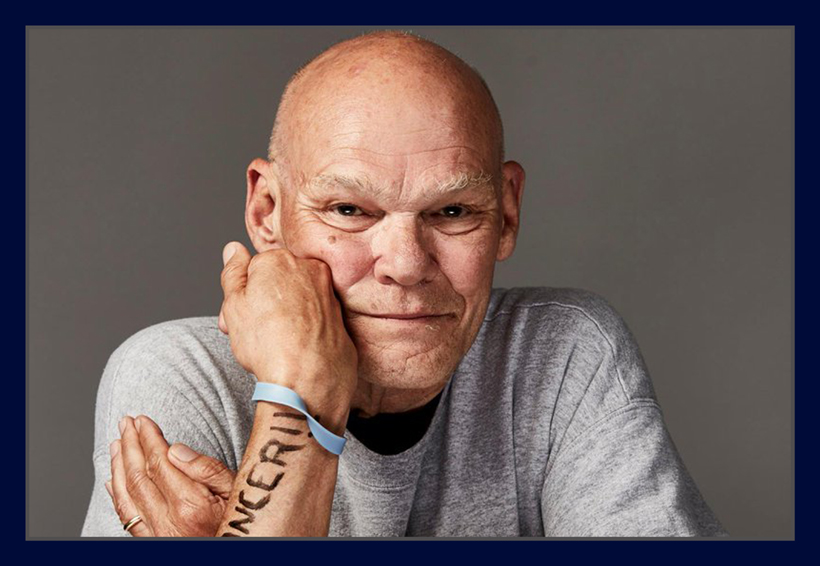
No período anterior à queda de Dilma, estava claro que acontecia o contrário. Por mais que se tentasse alguma coisa, a economia seguiria morro abaixo. Por causa da política. Ou seja, invertendo a máxima de Carville, no caso, era “a política, estúpido!”.
Na terça-feira (19), o dólar bateu a casa dos R$ 4. Os boletins do Banco Central e de outros analistas apontam para crescimento pífio, ou crescimento nenhum, do país este ano. Um comunicado interno da Receita Federal apontou que os cortes no orçamento previstos para este ano poderiam comprometer serviços como a emissão de CPF e a próprio restituição do imposto de renda. O governo enviou uma série de projetos ao Congresso de suplementação orçamentária que não caminham. Ou seja: estamos em crise.
E certamente não estamos em crise por conta dos pressupostos da equipe comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O que Guedes propõe e procura fazer é o que consideram o caminho correto nove entre dez empresários e financistas do país e do lado capitalista do planeta. O governo aprovou com imensa facilidade na Câmara a reforma da Previdência e nada indica que venha a sofrer algum tipo de dificuldade agora no Senado. Nunca houve ambiente tão propício para a discussão e aprovação das chamadas reformas estruturantes no Congresso.
E, no entanto, o país segue empacado. E, se isso acontece, é prudente jogar a culpa na política. No tal “presidencialismo de colisão”, como cunhou com felicidade meu amigo Melillo Diniz, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o criticado “presidencialismo de coalizão”, apontado por ele e por aqueles que o elegeram como a chave do fisiologismo e da corrupção que prejudicam o país.

No caso de Dilma, ela colocou um ortodoxo no comando da economia, Joaquim Levy, e nada aconteceu. Certamente porque o ambiente de instabilidade e de incerteza política não aconselhava investimentos. Com seu temperamento forte e estabanado, Dilma não conseguia fazer os arranjos políticos para serenar o país. Isso somado ao fato de que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na prática no comando então do Congresso, não fazia a menor questão de ajudar nessa tentativa de serenar ânimos.
Agora, Bolsonaro pisa ao máximo no acelerador e joga às calendas qualquer tentativa de serenar os ânimos. Ao contrário, seu “presidencialismo de colisão” elege inimigos todos os dias, afasta ex-aliados, entorna diariamente o caldo de qualquer entendimento. Não exatamente por ser estabanado. A tática tem método. Visa consolidar os apoios que já são mais sólidos. Fortalecer o “mito”, mantendo acesa a polarização radical do país.

Apesar de ter método, a estratégia é arriscada. É como apostar num incêndio imaginando ser possível controlá-lo. Ao enxergar tamanho cenário de instabilidade e incerteza, o investidor fica tentado a considerar se não é melhor esperar um pouco, manter o dinheiro fechado na carteira, dentro do bolso, enquanto o cenário não clareia.
Somam-se a isso guerras comerciais e posicionamentos internacionais que ganham um viés ideológico como nunca tiveram, nem mesmo no tempo da ditadura militar (quando as empreiteiras brasileiras, por exemplo, ganharam rios de dinheiro construindo hidrelétricas na União Soviética comunista). A Noruega tira seus recursos do Fundo Amazônia.
A Alemanha ameaça boicotar produtos brasileiros. O Irã e outros países do Oriente Médio preocupam-se com o alinhamento subserviente aos Estados Unidos. Mesmo os agricultores brasileiros, que nunca se pautaram pelo ativismo ambiental, mostram-se preocupados com o exagero de certos posicionamentos, que fazem com que os produtos do país corram o risco de perder os chamados “selos verdes”, condicionamentos de compromisso ecológico que são cada vez mais frequentes em diversos países que importam do Brasil.

Peitar posicionamentos e mudanças de conceito muito fora do pensamento global pode dar mais certo em um país como os Estados Unidos na era Donald Trump, no qual Bolsonaro se espelha. Afinal, os Estados Unidos são a maior potência do mundo, com capacidade para serem autossuficientes. Podem bancar suas guerras. O emergente Brasil é dependente dos humores de seus parceiros. Geralmente, precisa de uma jamanta para subir a ladeira. E corre sempre o risco de rolar abaixo por um sopro ou um peteleco fora de hora. Se não conciliar política e economia, a política derruba a economia, estúpido!

