“O diabo mora nos detalhes”. Este ditado encaixa-se como uma luva quando se trata de discutir a proposta de desvinculação orçamentária que tramita no Congresso Nacional. Detalhes passam despercebidos. Mas estão lá, sempre bem escondidos. Melhor, até mesmo, seria dizer que o diabo se esconde na furna em que ninguém sequer ousa penetrar.

O chamarisco do Ministro Paulo Guedes para convencer os congressistas a suprimirem as proporções fixas de recursos orçamentários para as áreas de saúde e educação é a pomposa “liberdade de conformação do legislador”. O czar da economia não se cansa de repetir que é preciso “desengessar o orçamento”; conferir ao Congresso Nacional, às assembleias legislativas, às câmaras municipais e à do Distrito Federal a mais ampla liberdade para determinar a destinação das arrecadações públicas.
Como se os membros do Poder Legislativo, em todas as nossas esferas político-administrativas, pudessem se espelhar na autonomia dos congressistas norte-americanos na hora de confeccionar o orçamento anual. A isso resolveu a ilustre autoridade atribuir o nome de “novo pacto federativo”.
Convenhamos: não é bem assim. É preciso conferir os detalhes; descobrir onde o diabo se esconde. Em tempos de exaltação, entre nós, da cultura hebraica, podemos dizer que a proposta em discussão não confere aos parlamentares poderes bastantes para enfrentar a divindade demoníaca conhecida entre os judeus como “Mamom”, o deus-dinheiro.
Em outras palavras, aos legisladores não seriam conferidas prerrogativas suficientes para desengessar a sacralidade do pagamento do serviço da dívida pública. Isso porque permaneceria intocável a disfarçada cláusula pétrea do art. 166, § 3º, inciso II, alínea “b”, da Constituição, segundo a qual o montante destinado pelo Poder Executivo ao pagamento do serviço da dívida pública é “imexível”.
Aliás, bons pesquisadores de nossa recente história constitucional, com destaque para Adriano Benayon, já evidenciaram a origem, digamos, irregular, deste dispositivo, verdadeiro “jabuti” legal: não tendo havido enchente, mão de gente inseriu-o, na surdina, nos estertores da Assembleia Nacional Constituinte, no texto do que seria nossa futura Lei Maior, para alívio e sossego do sistema financeiro. Mas isso é outra história.
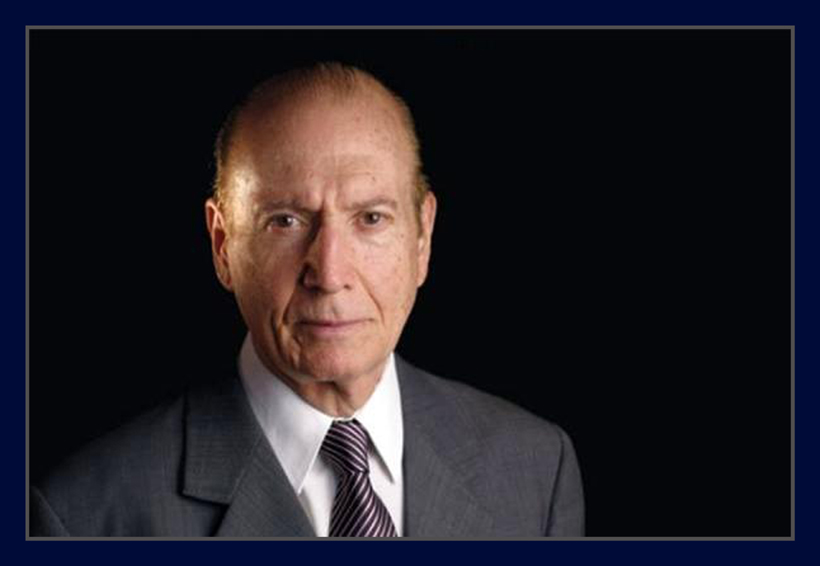
Para termos uma ligeira ideia do que representa entre nós a obediência religiosa ao deus-dinheiro do rentismo, basta observar os dados do Banco Central e da Secretaria do Tesouro Nacional sobre a evolução da dívida pública desde 2016. Não se trata de um marco temporal aleatório.
Naquele ano foi promulgada a Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016, ou o “Novo Regime Fiscal”. Sim, falo daquela mesma emenda que, enquanto tramitava, passou a ser conhecida como a anunciação do fim do mundo. Verdadeiro garrote sobre as chamadas despesas primárias do poder público, sua implementação significaria, como está significando, a contenção de gastos com o que interessa quando se cuida do bem-estar geral: seguridade social, educação, moradia, saneamento, gestão ambiental, geração de emprego e renda, reforma agrária etc. Demarcação de terras indígenas? Esquece!
Sob a égide do “Novo Regime Fiscal”, mesmo tendo sido pagas, a título de serviço da dívida pública (juros), as quantias de R$ 401 bilhões (2017), R$ 379 bilhões (2018) e R$ 367 bilhões (2019), o estoque do passivo público cresceu, em relação ao ano anterior, respectivamente, 14%, 9% e 10%. Isso, a despeito das drásticas reduções da taxa básica de juros da economia brasileira − a chamada taxa SELIC.
E, uma vez promulgada a Reforma da Previdência, – surpresa! − as autoridades econômicas vieram a público para admitir que, ainda assim, não se conseguirá interromper a trajetória crescente do estoque do débito público, mas apenas reduzir a velocidade de seu crescimento. Para efeito de comparação, o déficit do governo federal no âmbito da Previdência, considerados todos os regimes, foi, em 2019, da ordem de R$ 309 bilhões, enquanto a destinação de recursos para pagamento de juros da dívida pública importou, no mesmo ano, o dispêndio de R$ 367 bilhões. E note que não estamos discutindo os R$ 311 bilhões de renúncia fiscal, previstos para 2020, hein?
Até quando continuaremos a enxugar o gelo? A desculpa, agora, é que é demasiado o número de servidores públicos. Que tal comparar o número de servidores por habitantes entre o Brasil e os países que tanto admiramos? Basta consultar estudos da OCDE ou do próprio IPEA para se verificar a falácia do argumento.
Admitamos: não será mais uma reforma administrativa que resolverá problemas gerenciais do aparelho estatal. É claro que o poder público carece de eficiência e eficácia, mas a mera substituição de servidores, tidos agora como parasitas, por máquinas de inteligência artificial não dará conta do que é tarefa precípua da administração pública numa sociedade democrática: prestar bons serviços ao público (basta ver o que está se passando por ora no INSS). A não ser que se conceba o Estado por um ângulo autoritário, em que ele seria apenas a gendarmeria de defesa da propriedade privada e dos contratos.
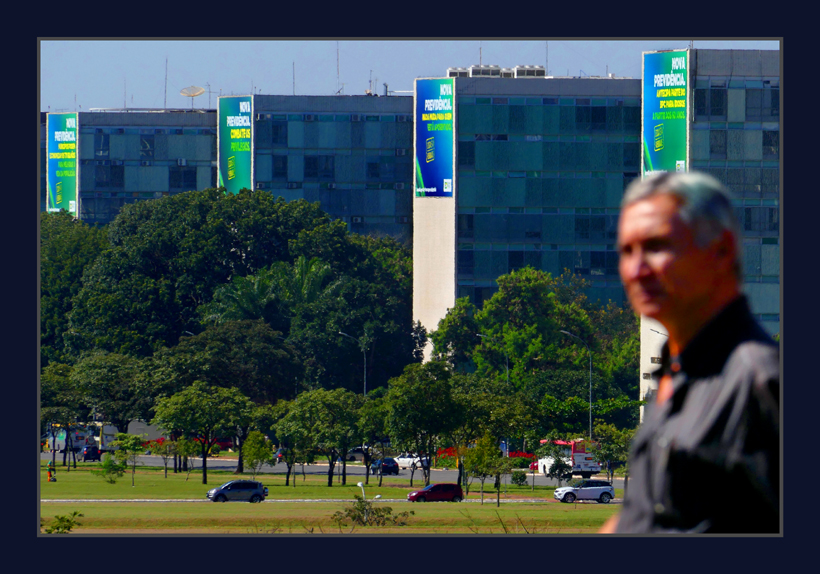
O que deveria prevalecer no debate sobre a gestão dos gastos do Estado é a análise do déficit nominal, que inclui as despesas com o serviço da dívida pública, no lugar do déficit primário (que não leva em conta tais despesas). Como o poder público não cria riqueza, essa discussão deságua, necessariamente, na revisão do modelo tributário.
Para endividar-se menos, não basta ao erário reduzir a taxa SELIC e cortar gastos em rubricas de custeio ou de investimento. É preciso que otimize a tributação; arrecade melhor, o que não significa, necessariamente, arrecadar mais. E para arrecadar melhor sem prejudicar o crescimento econômico ou gerar inflação, é necessário espancar a injustiça social que rege nosso sistema tributário, altamente regressivo: deslocar a ênfase na tributação do consumo − sem prejuízo de sua racionalização − para a imposição da obrigação de pagar tributos pelos que detêm renda e patrimônio, desde sempre poupados das garras do Leão.
Mas quando isso acontecer, certamente o diabo colocará o rabo do lado de fora. A questão é saber se políticos, tão tementes aos ensinamentos evangélicos, uma vez “empoderados” com o novo pacto federativo, terão a coragem necessária para enfrentar Mamom, em vez de com ele pactuar. Pois, como consta nas Sagradas Escrituras, foi dito, no Sermão da Montanha, que ninguém poderá, ao mesmo tempo, “servir a Deus e a Mamom”.
Thales Chagas M. Coelho é advogado e mestre em Direito Constitucional pela UFMG


