Em 2018, ao longo da campanha eleitoral, travei embates com um amigo, dos que tenho
feito ao longo da vida profissional, com quem posso debater posições políticas
polarizadas, sem que ambos percamos uma certa elegância, ainda que, vez por outra,
vozes se elevem alguns decibéis acima do normal. Ele, que seguiu carreira civil, vem de
uma família de militares. Dele, ouvi na ocasião duas frases que de lá para cá tem
balizado muito do meu pensamento sobre a eleição de Jair Bolsonaro.
A primeira: a de que “vamos voltar ao poder pelo voto”, e ele frisava o vamos voltar,
como a dizer que do poder os militares jamais deveriam ter saído.
A segunda, sobre o então candidato Bolsonaro, repetindo o que ouvira de um general,
que chegou a ser dado como nome certo para o ministério, mas que acabou alojado em
importante, estratégica, mas quase desconhecida estatal: “o vocabulário do cara”.
referindo-se a Bolsonaro, não tem mais que 150 palavras, mas é o suficiente para o que
precisamos”.
A frase sarcástica continha, do meu ponto de vista, três subtextos:
primeiro, que Bolsonaro é burro; segundo, que a burrice dele, e da maior parte do
eleitorado, seriam suficientes para os militares ‘ganharem a eleição’; terceiro, que o
‘burro’ Bolsonaro seria tutelado pelos militares.

(Parêntese) Quando Lula escolheu Dilma Rousseff para ser sua sucessora, corria a boca não muito pequena entre partidários do PT, inclusive alguns até bem estrelados, que a escolha pragmática se dera por duas razões, ambas, aliás, misóginas: a de que Dilma se deixaria, primeiro, tutelar por Lula, e, segundo, não tentaria a reeleição, abrindo mão dele em favor do seu padrinho e tutor político. Esse raciocínio continha, além da misoginia, uma premissa equivocada: a de que quem vence uma eleição e se senta na cadeira de Presidente da República não se sentirá ungido pelo povo e por Deus, ou por algum outro desígnio transcendente, para fazer o que quiser, e com quem quiser. Dito e feito. (Fecho parêntese).
No dia da sua posse, no pódio defronte ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro bateu
continência para Hamilton Mourão. E reforçou a ideia, que não corria apenas entre
militares, de que o novo presidente seria pouco mais que um peão entre torres, cavalos,
até bispos, rei e alguma rainha, no tabuleiro do novo poder. Mas, Jair, além de
presidente eleito, não era só Jair, Jair era também o Messias, e um Messias cuja chegada
ao poder supremo se dera, mais ainda, e milagrosamente, como sobrevivente de uma
facada. Ou pelo menos ele assim se pensava. E começou a se pensar, talvez, quando,
numa viagem qualquer, lá pelos idos de 2017, foi recebido no aeroporto por uma
orquestrada manifestação, aos gritos de Mito!
PS: sobre a referida orquestração, escreverei em outra oportunidade.

O que me move neste momento é refletir sobre a relação dos chefes militares que hoje habitam o Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro. Uma relação que nada, ou muito
pouco teve a ver, com os jovens fanáticos que originalmente orquestraram a campanha
do Mito, e muito menos com o guru da maioria deles, Olavo de Carvalho. Trata-se de uma relação que foi oportunisticamente apropriada pelos referidos fardados e a sua corporação, convencidos de que aquele ex-soldado medíocre e insubmisso, que eles próprios tinham expelidos das Forças Armadas, seria o seu caminho mais curto de voltar ao poder ‘pelo voto’.
Imediatamente após a eleição, determinados círculos militares e civis, estes, em sua
maioria, expoentes da mídia corporativa, inflaram a ideia de que o insubordinado,
folclórico, incompetente, baixo clero, Jair Bolsonaro, seus filhos e aquele exótica
bancada, federal, estadual e municipal que ele elegera, pouco mais eram do que
resultados, muito bem vindos, aliás, da roubalheira que o PT e seus aliados, comunistas
tinham promovido no país desde o começo do século XXI. Estava ali Luiz Inácio Lula da
Silva na cadeia para esta tese provar, estava aí Dilma Rousseff escorraçada do Palácio
do Planalto porque, além de desonesta, e mulher, tinha levado o Brasil ao caos
econômico.
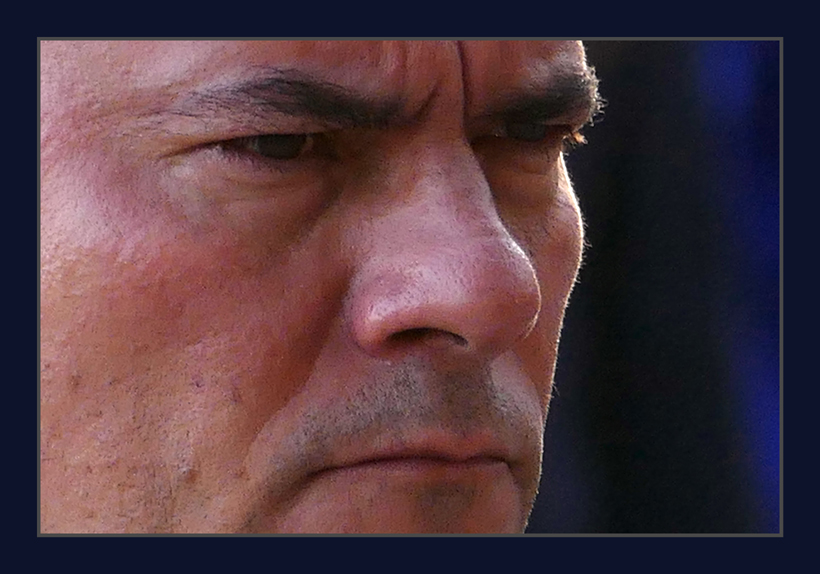
E que o presidente eleito e seus seguidores nada mais tinham sido do que, na linguagem dos economistas, uma ‘externalidade’ política, que seria agora apropriada
e domada pelas Forças Armadas, pelo ‘mercado’ e pela Lava-Jato que, de uma operação judicial, tinha se transformado na maior força política brasileira naquele momento. E os fiadores desse cenário seriam os generais Augusto Heleno e Hamilton Mourão, nessa ordem, o indomável economista Paulo Guedes, e o mais novo herói nacional, Sérgio Fernando Moro.
Por isso, pouco se prestou atenção, exceto pelas derrotadas forças de esquerda, ao
pronunciamento inicial do presidente eleito, na forma do que viria a se tornar uma sua
marca registrada; uma improvisada ‘live’, durante a qual exibiu as três obras que
seriam os pilares ético-morais da sua gestão: a Bíblia, um livro qualquer de Olavo de
Carvalho, e uma biografia de Winston Churchill. De Churchill, cujo nome completo, é
legítimo especular, Bolsonaro até hoje desconhece, nunca mais se ouviria qualquer
integrante do governo falar, ao contrário das onipresentes citações bíblicas e das
diatribes do astrólogo da Virgínia.
Nada disso, de fato, importava; o que importava era a presença de Sergio Moro à frente
da Justiça e Segurança Pública, e o fascínio da Bolsa, da Rede Globo, e por aí, com as
reformas de Paulo Guedes. Damares Alves, Ricardo Salles, Ernesto Araújo, Ricardo Velez, Onyx Lorenzoni, Marcos Pontes, Osmar Terra, Marcelo Antônio, Tereza Cristina, Luiz Henrique Mandetta, Gustavo Bebianno, Tarcísio de Freitas, Bento Albuquerque, Gustavo Canuto, etc, compunham o ministério, mas isto também pouco importava. O importante, volto ao tema, eram Moro e Guedes, e os generais – Augusto Heleno, Hamilton Mourão e o recém agregado Carlos Alberto Santos Cruz. Sobre esses cinco personagens, deliravam a
Bolsa e a Mídia, repousaria a racionalidade, a estabilidade e a garantia de que o país
estava prestes a conhecer um novo Milagre Brasileiro.

E aqui eu volto ao tema central deste artigo; o vice, decorativo como soem ser os vices,
Hamilton Mourão. Quando Hamilton Mourão ocupou seu gabinete, no Anexo 1 do Palácio do Planalto, no prédio em frente, seus colegas de farda no prédio em frente eram Augusto Heleno, no Gabinete de Segurança Institucional; Carlos Alberto Santos Cruz, na Secretaria de Governo, e um personagem menos importante, mas igualmente general, Otávio Rêgo Barros, como porta-voz da Secretaria de Comunicação.
Hoje, passados 15 meses, Santos Cruz, depois de humilhado por Carlos Bolsonaro, e
xingado por Olavo de Carvalho, tornou-se, no Twitter, um crítico contumaz do governo,
pra dizer o mínimo. Para seu lugar foi outro fardado, Luiz Eduardo Ramos, cujas
principais qualificações, para além das militares, eram as ligações pessoais com o clã
Bolsonaro, em especial com seu chefe, com quem dividia e divide animados passeios de
motocicleta. E, quando Onyx Lorenzoni, Ministro Chefe da Casa Civil, se viu às voltas
com as travessuras de seu secretario executivo que, no exercício do cargo, passeou
entre Europa e Ásia com um jatinho da FAB, o círculo militar do Planalto se ampliou.
Defenestrado, Onyx foi jogado para o Ministério da Cidadania, substituindo Osmar
Terra, devolvido à Câmara dos Deputados, onde, num futuro próximo, se revelaria um
interessante ‘epidemiologista’, mas isto é história para outro futuro artigo desta série.
O que interessa aqui é que Onyx, agora ministro sem o brilho do ministério anterior, se
viu substituído por mais um fardado, o general Walter Braga Netto, então interventor
federal na Secretaria de Segurança do município do Rio de Janeiro, função para a qual
fora nomeado por Michel Temer.
De Otávio Rêgo Barros, como se evaporado da face da Terra, nunca mais se ouviu mais
falar. De súbito, Hamilton Mourão, de dois, passara a ter quatro colegas generais no Palácio
do Planalto. A chegada dos militares ao poder pelo voto, depois de dele terem sido
desalojados em 1987, parecia ser cada vez mais uma realidade: Presidente da
República, Vice-Presidente da República, Ministro-Chefe da Casa Civil, Ministro-Chefe
da Secretaria de Governo e, por último, e não menos importante, Ministro-Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional. Nem Emílio Garrastazu Médici teve, ao seu lado,
tamanho dispositivo militar no coração do Presidência da República.

Por isso, como sugerido no título que encima este artigo, é preciso, mais do que nunca,
falar de Hamilton Mourão. Falar do triste papel a que ele se prestou, no final da tarde do dia em que Sérgio Fernando Moro anunciou a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Dia em que ele, Augusto Heleno, Walter Braga Netto e Luiz Eduardo Ramos apareceram perfilados ao lado de um esbugalhado Jair Bolsonaro que, numa longa e indescritível arenga, tentou justificar o injustificável: sua tentativa de evitar que a Polícia Federal avançasse com a investigação que aponta para a responsabilidade de seus filhos Carlos e Eduardo na gestão da operação de uma rede de desinformação, preconceito e ódio nas diferentes plataformas de internet, conhecidas como redes sociais.
Não havia como, olhando para aquela aglomeração no Palácio do Planalto, deixar de
concluir, ao fim e ao cabo, que quem um dia se pensou tutor virou tutelado. E ninguém
melhor ilustra essa ideia do general tutelado do que Augusto Heleno que, na montagem
do governo, chegou a ser pintado como um novo Golbery do Couto e Silva, o militar
intelectualizado, que foi de criador do SNI, com Castello Branco, a estrategista da
distensão lenta, segura e gradual, com Ernesto Geisel.
Heleno, se dizia a boca pequena, e a mídia corporativa amplificava, seria o Golbery do
Jair, aquele que, permanentemente ao seu lado, faria o papel de moderador do
estouvado, estourado, presidente, que, com seu vocabulário curto, não conseguiria se
expressar corretamente, e, portanto, precisaria ter ser suas diatribes aplainadas por
Heleno e demais colegas generais. Mas o ‘moderado’ Augusto Heleno, a julgar pelos
seus tuítes e outras declarações públicas, parece mesmo é ter se graduado, suma cum
laudae, nos cursos online de Olavo de Carvalho e ser um habitué de cafés da manhã
com Carlos Bolsonaro.

Jair Bolsonaro, depois da continência simbólica que prestou a Hamilton Mourão e de sentar-se na cadeira presidencial em 1º de janeiro de 2019, viu realizar-se o sonho que
parecia ter-se esfumaçado quando, em 1986, lançou-se em uma carreira sindical reivindicatória de melhores salários para a carreira militar. Do desligamento sem honra das forças armadas, Bolsonaro era agora o seu comandante em chefe. E, ao invés de continuar a bater continência, passou ele a receber as continências e, mais que tudo,
a dar ordem unida para estrelados e obedientes generais.
Ninguém, como já frisei, toma assento no poder sem julgar-se especial. Entretanto, um comandante em chefe pode tornar-se, ou um ensandecido Calígula, a espalhar terror ao seu redor, e ameaçar fazer de seu cavalo, Incitatus, um cônsul romano, ou um exemplo civilizatório como o espanhol Adriano, o mais helenista, e culto, dos imperadores romanos, talvez só igualável ao imperador-filósofo Marco Aurélio. Mas, Marco Aurélio teria seu legado
tisnado para a história ao fazer do filho Cômodo seu sucessor; um sucessor tão
sanguinário e imbecil quanto o fora Calígula, uma realidade que, no Brasil de hoje, pode
não ser uma mera fantasia dinástica à nossa espreita, num futuro terrivelmente
próximo.
Mas e Hamilton Mourão?
Hamilton Mourão notabilizou-se no início do governo, pouco mais de um ano atrás, por
seduzir setores da mídia em estudada, porque até então desconhecida, simpatia,
soltando leves tiradas críticas a atitudes, que até então pareciam ser só folclóricas, do
seu comandante em chefe, ou, como no caso de potenciais atritos com o governo chinês,
manifestando-se abertamente. Claramente fazia um jogo de morde-assopra, projetando
uma imagem simpática no presente, e de potencial político para o futuro. Mas sempre
equilibrando-se para não parecer hostilizar abertamente o seu comandante-em-chefe,
como quem, antes do tempo, almeja o seu lugar.
Mas Hamilton Mourão, o general loquaz, articulado, poliglota, dono de um inglês
impecável, que recebeu da sociedade brasileira uma educação pública da altíssima
qualidade, não tem o direito de, numa hora de tanta gravidade para a sociedade
brasileira, em que brasileiros morrem diariamente diante dos nossos olhos, de, ao ver
desabar o maior, ainda que muito discutível pilar moral do seu governo, balbuciar aos ouvidos de uma empresa de lobby, falando para investidores, que Moro não teria saído
da maneira ‘mais apropriada’, que poderia ter só pedido a sua demissão. Ora, até em
Sérgio Moro, juiz de duvidosa atuação em sua Vara – e me refiro ao caso de Luiz Inácio
Lula da Silva – eu reconheço o direito de evitar o ‘quem cala, consente’.

E aí está o grande desafio de Hamilton Mourão hoje, quer ele queira ou não, quer gostemos ou não. Ele foi eleito vice-presidente da República, e o seu comandante em chefe, que, um dia lhe bateu continência, mas hoje lhe dá ordem unida, é alvo de uma investigação no Supremo Federal, pedida pelo Ministério Pública Federal, e conduzida
pelo Decano Celso de Mello. Não é de se supor que essa investigação vá em resultar em nada, nem que se arraste por muito tempo, pois pessoas já começam a morrer sem
assistência médica em suas casas, e daqui a pouco nas ruas. Os indícios são fortes de
que Jair Bolsonaro, entre outros crimes de responsabilidade, tentou intervir na Polícia
Federal para sufocar investigações que podem levar a dois dos seus filhos, e escrevo
isto sem ter a mínima ideia do que Sérgio Moro disse em seu depoimento à Polícia
Federal. Isto não importa.
O que importa é que, ao final desta investigação, Jair Bolsonaro poderá ser afastado da
Presidência da República, e, isto acontecendo, o poder vai cair no colo do seu vice-presidente. Mas, como sabemos, sabíamos muito de Itamar Franco e Michel Temer, por
mais decorativos que tivessem sido até sua ascensão à presidência da República. Mas,
de Mourão o que mais sabemos, exceto pelo fato de que já se mostrou capaz de seduzir
experientes profissionais da mídia e que aprendeu rapidinho a receber ordem unida e
bater continência pra capitão?
Eis aí porque, acredito, é preciso falar de Hamilton Mourão.
Murilo César Ramos é professor Emérito da Faculdade de Comunicação
Universidade de Brasília (UnB)


