O art. 142 da Constituição, que prevê o acionamento das Forças Armadas para a “garantia dos poderes constitucionais” e, por iniciativa de qualquer destes, “da lei e da ordem”, não dá solução, por si só, para o problema da ordem de comando a seguir, na hipótese de acirramento de embates entre o chefe do Executivo e o Judiciário ou o Legislativo, ou entre aquele e os demais; ou de recusa, pelo presidente da República, de pedidos manifestados pelos presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal para emprego das Forças Armadas naquilo que entendam eles ser operação de garantia da lei e da ordem. O § 1º do artigo já remetia para uma lei complementar o desafio de se encontrar uma solução para o imbroglio.
Sob o ângulo meramente formal, ou seja, o das tecnicalidades da hermenêutica jurídica, não haveria maiores dificuldades para responder à indagação acerca de eventual legitimidade de uma intervenção castrense para, sob ordens do comandante supremo das Forças Armadas, − o presidente da República, como chefe do Poder Executivo − inibir a ação dos Poderes Legislativo e Judiciário. E essa resposta seria negativa: a Constituição não confere poder moderador algum às Forças Armadas. Não lhes cabe, com amparo no texto constitucional ou na legislação infraconstitucional, arbitrar o que os juristas alemães, talvez tendo em conta as trágicas experiências na aplicação da Constituição de Weimar (1919), passaram a denominar, pomposamente, “Organstreitigkeit”: conflitividade entre órgãos estatais. Outra coisa, porém, é o que se passa quando se trata da constituição “ex facto”, a Constituição não escrita, a da realidade que se impõe por puro exercício do poder, como frisava Carl Schmitt.

A função precípua das Forças Armadas, conforme a Constituição escrita, é proteger o Brasil e os brasileiros do inimigo estrangeiro. Guerrear, se for o caso. Dar ordem para que as Forças Armadas façam guerra é um ato do presidente da República que, de acordo com a Constituição, depende de autorização do Congresso Nacional. No âmbito interno, as Forças Armadas podem ser empregadas em casos de estado de sítio, de defesa ou intervenção federal. Outra vez: é competência exclusiva do Congresso Nacional, diz a Constituição, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, bem como autorizar o estado de sítio. Portanto, negadas a aprovação ou autorização mencionadas, o presidente da República deve abster-se de empregar as Forças Armadas, externa ou internamente. O contrário é tirania. E não se deve esquecer que, na esteira das lições da Revolução Gloriosa (1688), dependem do Congresso Nacional a fixação e a modificação dos efetivos das Forças Armadas, bem como a alocação dos recursos orçamentários para mantê-las.
Só em situações episódicas, em áreas previamente definidas e no menor espaço de tempo possível, pode o presidente da República, sem aquiescência do Congresso Nacional, determinar o emprego das Forças Armadas em operações típicas de segurança pública, de competência dos Estados e do Distrito Federal e, ainda assim, apenas e tão somente quando as Polícias Militares se mostrarem indisponíveis, inexistentes, ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional.
Em suma, onde vigora o sistema de “freios e contrapesos”, essência do constitucionalismo, o chefe do Poder Executivo da União, sob a égide do sistema presidencialista de governo, pode muito, mas não pode tudo. Ele é o chefe de Estado, mas não é a Constituição. Dela deve ser súdito como qualquer cidadão. E se houver conflito entre órgãos estatais, o árbitro do contencioso, cujas decisões devem ser acatadas, é o poder que, nas palavras de Alexander Hamilton, não dispõe “nem da bolsa nem da espada”: o Poder Judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, nos termos do art. 102 da Lei Maior.
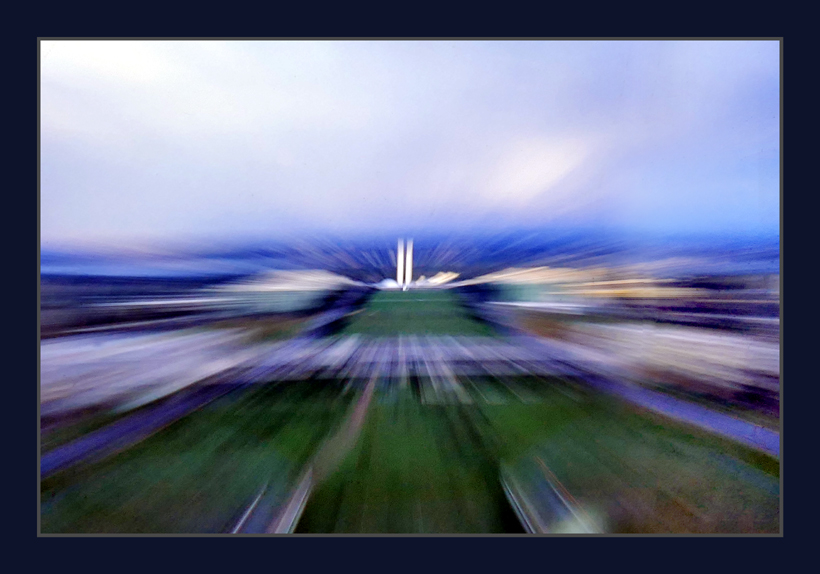 Como os pedidos de emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem, manifestados pelos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, são, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei Complementar nº 97, de 1999 (aquela a que se refere o § 1º do art. 142, CF), dirigidos ao presidente da República, surge, como antecipamos acima, uma questão interessante: saber se esse pode ou não recusá-los.
Como os pedidos de emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem, manifestados pelos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, são, nos termos do art. 15, § 1º, da Lei Complementar nº 97, de 1999 (aquela a que se refere o § 1º do art. 142, CF), dirigidos ao presidente da República, surge, como antecipamos acima, uma questão interessante: saber se esse pode ou não recusá-los.
No juridiquês, importa verificar se se trata de atos complexos ou compostos. Ato complexo é o ato administrativo formado pela manifestação de vontade de órgãos diversos. Ou seja, se a vontade do primeiro não se coaduna com a vontade do segundo, o ato não se completa. Já o ato administrativo composto é o ato que resulta da vontade de um órgão, mas depende da verificação por parte de outro, para que possa ser executado. Como ensina Alexandre Magno F. Moreira, “o ato complexo é apenas um ato administrativo, formado por duas ou mais vontades independentes entre si. Ele somente existe depois da manifestação dessas vontades. O ato composto, ao contrário, é único, pois passa a existir com a realização do ato principal, mas somente adquire exequibilidade com a realização do ato acessório, cujo conteúdo é somente a aprovação do primeiro ato”.
Dito isso, é forçoso reconhecer que esses pedidos dirigidos ao presidente da República pelos chefes dos outros Poderes são atos compostos. Resta ao presidente da República apenas ratificá-los, realizando um ato de sua exclusiva competência, mas acessório. Não o fazendo, incide em crime de responsabilidade (art. 85, incisos II e VII, CF). O contrário, isto é, admiti-lo como ato complexo, importaria conferir ao presidente da República um status superior aos demais chefes de poderes, situação incompatível com a equipotência (checks and balances) entre os três ramos em que o poder estatal se divide, consoante o que dispõe o art. 2º da Constituição.
A “legitimidade” das Forças Armadas para determinar, com ou sem comando do chefe de Estado, como órgãos de poder devem se conduzir não esteve inscrita na carta constitucional imperial. Igualmente não estava inserta na Constituição de 1891, ainda que o texto promulgado tenha tido por base a “constituição provisória” (Decreto nº 510, de 1890), outorgada pelo Generalíssimo Deodoro da Fonseca, primeiro presidente da República. Na verdade, os constituintes republicanos pouco se debruçaram sobre o relatório do então senador Campos Salles. Havia mais contexto do que texto. Digladiavam-se em torno da presidência da República: Deodoro deveria ser confirmado no cargo? Outro militar deveria substituí-lo? Ou, ainda, um representante das oligarquias deveria ser o escolhido? Fato é que, tragados por essa luta política, não se dedicaram a definir o papel das Forças Armadas, ainda que um quarto dos constituintes fosse formado por militares; quase nada escreveram sobre sua organização e funcionamento.
Novos problemas: as crises entre o poder militar e o republicanismo constitucional
Nesse limbo institucional, vivenciamos nossa primeira crise republicana entre o poder civil e o poder militar e, na sequência, entre o Exército e a Marinha. Sem amparo constitucional, pois o sistema de governo era presidencialista, Deodoro dissolveu o Congresso Nacional em novembro de 1891. Houve resistências e, vinte dias após a manobra, acabou por renunciar. Em seu lugar, assumiria o Marechal Floriano Peixoto, que fora eleito vice-presidente pela Assembleia Nacional Constituinte. Floriano, o “Marechal de Ferro”, tornou sem efeito o decreto presidencial de dissolução do Congresso, mas depôs governadores que haviam apoiado o golpe de Deodoro.

Como Deodoro não havia, ainda, completado dois anos de mandato, instalou-se uma polêmica em torno da interpretação do art. 42 da novíssima Constituição: Floriano assumiria em caráter interino, até que, convocadas eleições, um novo presidente da República fosse escolhido “por sufrágio direto da Nação” ou simplesmente substituiria Deodoro, completando seu mandato? Floriano reprimiu fortemente o movimento por eleições; afrontou o Supremo Tribunal Federal; e desbaratou revolta do almirantado que, em franco desprestígio desde o fim da monarquia, se insurgia contra sua continuidade na chefia de governo. A gestão do “Marechal de Ferro” enredou-se em ambiguidades que tornariam inviável uma ditadura militar; chegando a termo o mandato presidencial, fez-se inexorável a ascensão de um representante das oligarquias regionais: o advogado paulista Prudente de Morais. Militares só retornariam à ribalta com a eleição de Hermes da Fonseca, sobrinho do primeiro presidente da República (1910).
José Murilo de Carvalho, reconhecido estudioso das Forças Armadas entre nós, anotará a primeira intervenção militar articulada pelos hierarcas castrenses, no período republicano, como sendo a deposição de Getúlio Vargas, em 29 de outubro de 1945. E não se diga que a Carta Política do Estado Novo, de 1937, cópia do estatuto político fascista polonês, tivesse previsto esta competência no rol das atribuições de nossas Forças Armadas. Exerceram-na por moto próprio ou poderosas forças externas teriam instado ou açulado os hierarcas a exercê-la? Parafraseando o que indagava o jornal O Militar, em 25 de abril de 1855, cabe perguntar: “por que meio fostes a isso levados?”.
A Guerra Fria havia começado. A intervenção militar se deu exatamente um mês após o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) haver dado entrada, no Tribunal Superior Eleitoral, com o seu pedido de registro provisório como agremiação política, pedido esse que seria deferido em 10 de novembro daquele ano. Anistiados em abril de 1945, os comunistas haviam aderido ao “queremismo”: Constituinte com Getúlio, o que acabou não ocorrendo. Getúlio, deposto da Presidência da República, ainda assim se elegeria membro de um Congresso Nacional que, subitamente, fora investido por José Linhares, presidente da República em exercício, de poderes constituintes. Foi eleito senador por São Paulo e Rio Grande do Sul e deputado federal por sete Estados. Pouco participou das atividades parlamentares. Já os comunistas eleitos como congressistas atuaram intensamente na elaboração da nova Constituição. Mas sua atuação na legalidade teria vida curta. Em 7 de maio de 1947, durante o governo do General Eurico Gaspar Dutra, o registro do PCdoB seria cassado. Dutra, que fora ministro da Guerra no período do Estado Novo, simpatizara-se antes com a causa nazifascista. Fora eleito com o apoio crítico de Vargas, que por ele, Dutra, pouco antes havia sido deposto. Agora, presidente da República, Dutra tratava de rezar na cartilha de Harry Truman.
Ali temos, desde as turbulências da proclamação da República, o marco fundante da política com forte acento militar: que não se alicerça em convenções da cidadania, mas, se tanto, no consentimento da população civil por ilusão do “combate ao comunismo” ou por simples temor às armas. Revolução alguma instaurou a república em substituição à forma monárquica de governo. Tampouco houve insurgência popular para depor Vargas, que, quatro anos depois, retornaria à Presidência da República pela vontade do povo, manifestada pelo voto. Da deposição de Getúlio Vargas, em 1945, à deposição de João Goulart, em 1964, o Brasil viveria entre sobressaltos de agitações militares até a instauração do regime conduzido pelas próprias Forças Armadas. Não se tratava de exercício do poder moderador pela caserna, mas de tutela da sociedade civil por “militares esclarecidos”, providos de “ardor cívico”, na irônica expressão de Boris Fausto. Um pensamento que se engendrava desde que, em 1868, o Marquês de Caxias criticou “a guerra de alfinetes” que caracterizava o cenário político da época, o qual já era denominado “politicalha”.
Vã ilusão seria esperar que a Constituição de 1988 pudesse dar paradeiro a esse manto de tradições autoritárias. Como assinalamos antes, havia um pecado original: a inexistência de um poder popular constituinte soberano. Só a práxis constitucional, pelos cidadãos, poderia, dada essa circunstância inibidora, arrefecer e controlar, adequadamente, a autorização para que, em nome “da lei e da ordem”, a desobediência civil de brasileiros − vale dizer, protestos, distúrbios, insubmissões, revoltas, insurreições − pudesse ser reprimida.
Caminhamos, porém, em sentido contrário, A legitimação passiva para ingerência em assuntos internos agigantou-se, progressivamente, pela incapacidade de o poder civil em punir abusos cometidos durante a ditadura que se inaugurou em 1º de abril de 1964; em introduzir, na formulação da doutrina das academias das forças, uma visão crítica sobre esse período e uma cultura de subordinação aos órgãos da democracia representativa e à jurisdição; em dar conta, nos termos do art. 144, dos problemas generalizados de segurança pública e, por último, mas não menos importante, por deixar fazer prevalecer a “politicalha”. É nesse ambiente que ressurge a nostalgia, na dicção do “Marechal de Ferro”, do “governo da espada que sabe purificar o sangue do corpo social que, como o nosso, está corrompido”. Estranho, pois o Marechal de Ferro não se furtou a mais conspurcar o sangue do corpo social mediante arranjos com as potentes oligarquias de antanho. E por isso mesmo fracassou em seu intento de perpetuar-se no poder: a esperteza engoliu o esperto.
Como no início da República, as coisas parecem não estar caminhando bem. E, assim, infelizmente, chegamos aonde estamos: a triste combinação de tutela militar com politicalha, isto é, acerto entre militares que governam com o corpo social que, dizia Floriano, “está corrompido”. Os fatos estão a falar por si.
* Advogado, é mestre em Direito Constitucional pela UFMG


