O capitão-mor Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República, em outubro de 2018, com 57,7 milhões de votos. Na posse, como soera acontecer com seus antecessores, graças a um fenômeno pós-eleitoral, sua popularidade aumentara.
Naquele momento, Bolsonaro tinha uma opção paradigmática na política. Eleger um inimigo comum, Lula e o PT, e governar o Brasil com apoio majoritário. FHC e Lula, que adotaram o modelo, sobreviveram aos oito anos do mandato.
Seu receituário reformista estava explícito, portanto não precisaria aplicar o “veja bem”, expressão cínica que pode ser traduzida como “estelionato eleitoral”. Com o apoio do Parlamento, sem os acordos fisiológicos que rejeitou, tentaria implantar suas reformas.
O capitão-mor desprezou este modelo. Em pouco tempo, em vez de construir sua base aliada, inchou as hostes adversárias.
A opção, tirante alguma estratégia oculta, parece insana. No lugar de um inimigo fácil de combater – o PT e seu labéu de corrupção e recessão -, desovou aliados continuamente nas trincheiras inimigas.
Candidato na hora certa
À primeira vista, o modelo parece ser o da não-política. Ou seja, poderia render um estudo da arte de como não se faz política.

Dada à rusticidade intelectual de Bolsonaro e da sua tríade de rebentos, uma das conclusões possíveis é de que se trata de incapacidade. Aliada à uma insegurança aguda que o faz desconfiar de quase todos que o cercam, conclui-se que o hodierno presidente do Brasil não faz política porque não sabe como.
Esta visão talvez subestime um sujeito que sobreviveu 27 anos no Parlamento. No momento certo, ele estava pronto para assumir o poder em tempos de grande rejeição à política e de ascensão do conservadorismo no mundo.
Por este prisma, Bolsonaro aproveitou a janela histórica que se abriu, o que não tira o caráter surpreendente de sua eleição. Fato que reforça outro aspecto de sua eleição. O capitão-mor se preparou para vencer as eleições e não para governar, como já apontado aqui n’Os Divergentes.
Apesar deste caráter inopinado, não se pode invalidar que sua forma de governar seja desprovida de bases teóricas. Trata-se daqueles conhecimentos que perpassam os séculos, resistindo ao tempo mesmo que pouco conhecidos.
Afinal, não é preciso conhecer um conceito ou uma teoria para aplicá-los. Sobrevivem como o instinto das tartarugas que, ao nascerem, correm para o mar na busca de seu habitat.
Se não é amigo, inimigo é
Uma das definições de política que pode se encaixar ao molde bolsonarista é o da relação amigo-inimigo. Norberto Bobbio assim a definiu: “O campo de origem e de aplicação na Política seria o antagonismo, e a sua função consistiria na atividade de associar e defender os amigos e de desagregar e combater os inimigos”.
A formulação teórica deve-se a Carl Schimitt, jurista e filósofo. Para o pensador alemão, a política é o campo do conflito permanente.
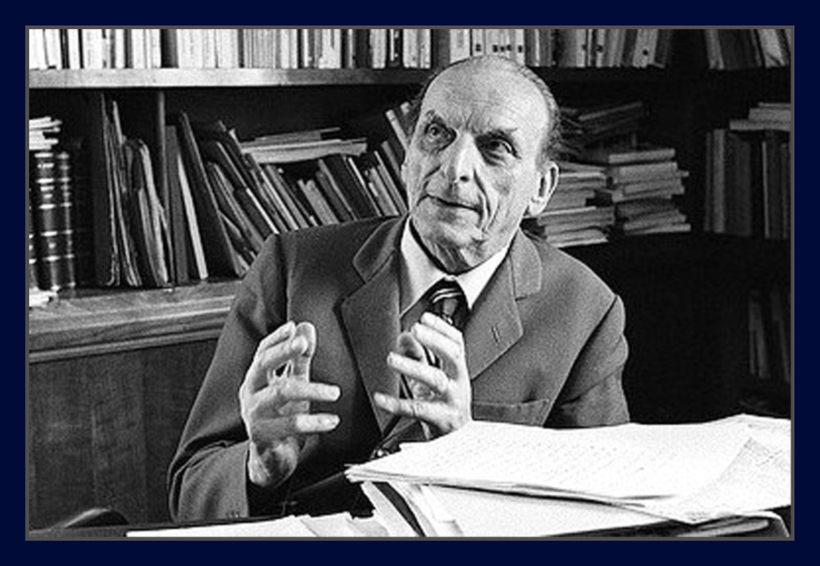
De novo, Bobbio. “(…) Logo se nota que o elemento definitivo [da relação amigo-inimigo] está em que se trata de conflitos que, em última instância, só podem ser resolvidos pela força ou justificam, pelo menos, o uso da força pelos contendores para pôr fim à luta”.
Schimitt, que se opunha ao liberalismo, entendia que o soberano enfrentava um risco político permanente, interna e externamente. A possibilidade de guerra era, assim, uma constante.
Duas informações adicionais. Sua teoria foi formulada entre as duas Grandes Guerras. Schmitt aliou-se ao nazismo.
Conhecendo ou não a obra, Bolsonaro poderia ser um modelo da relação amigo-inimigo. Sua ação política parece sempre orientada pela criação de conflitos.
O presidente é um sujeito ensimesmado, o que quase sempre denota insegurança. Na formação de seu ministério, ao definir que não cederia ao tomá-lá-dá-cá que caracterizou os governos antecedentes, tratou todo o Parlamento como fisiológico.
Não conseguiu conviver em harmonia com seus correligionários do PSL, ou seja, aqueles que, por pensarem como ele, eram votos certos em favor das pautas bolsonaristas. Assim como desprezou o majoritário contingente católico no Brasil e não investiu no expressivo, porém, oposicionista, eleitorado nordestino.

Mais do que se afastar de aliados, Bolsonaro os joga, após conflitos que ele mesmo provoca, à vala de inimigos. Foi o que fez com governadores e prefeitos que, pela condição de dependência financeira da União, costumam ser aliados de conveniência ou, pelo menos, politicamente neutros.
Vita mea, mors tua
Vasta, a política contempla outras teorias. Uma delas poderia ter sido a adotada por Michel Temer, antítese na forma de conduzir a política patrícia.
Johannes Althusius, filósofo e teólogo alemão, pregava a união entre os homens. Não se trata de crer na fraternidade entre políticos. Na política, não como ideal, mas como realidade, tem-se aliados, não amigos.

De um modo ou de outro, porém, numa sociedade democrática não há como governar sem que uma maioria seja constituída. Maiorias estas conquistadas nas urnas ou forjadas em alianças posteriores.
“A política”, definia Althusius, “é a arte de unir os homens entre si para estabelecer a vida social comum, cultivá-la e conservá-la”. Seu ideal religioso está longe do caráter pragmático da política.
A base do ensinamento, porém, é semelhante. Numa democracia, um governante – ou soberano – precisa buscar a convergência para conduzir a nação.
Isto não significa estabelecer consensos, praticamente impossíveis em tempos de extremos ideológicos do século XXI. A convergência visa atrair apoiadores suficientes para formar uma maioria em torno de interesses que atendam o maior número de cidadãos.
Bolsonaro parece se identificar muito mais com Schmitt. O conflito para ele é o modus operandi. A sociedade, dividida entre amigos e inimigos.

À frente da presidência, antagonizou com o Parlamento desde o princípio. Em vez de circunscrever seus adversários ao nicho petista, ampliou-os sistematicamente.
O mandatário levou sua prática conflituosa ao paroxismo. Mesmo quando detinha amplo apoio do Congresso Nacional, como na reforma da previdência, tratou de rivalizar com os parlamentares.
A vida pregressa de Bolsonaro e sua atitude beligerante como método indicam traços autoritários que podem conduzir à “ruptura política”, como refletiu José Murilo de Carvalho. Para o historiador, esta ruptura seria consequência “de um desastre econômico, social e humanitário”, em construção nos caldeirões ferventes de conflagrações que escalam o Brasil desde os protestos de 2013.
Este cenário extremo, outras vezes visto na história da República brasiliana, poderia levar à receita advogada por Schimitt e resumida por Bobbio. Em conflitos, “confrontados os contendores como inimigos, a vita mea é a mors tua“.


